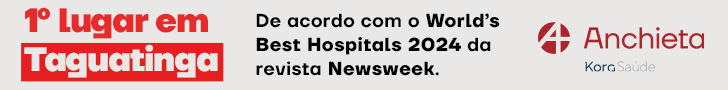Com o céu pintado de roxo. Entre batuques. Fantasias, danças e gritos: “Marielle virou semente!”. A manifestação do 8 de março coloriu as ruas da Capital Federal com um tom de bloco de carnaval a marcha seguia da rodoviária rumo à esplanada dos ministérios carregada de gritos abafados, tentativas de silenciamento e pautas das mais diversas se faziam ser ouvidas. Entre corpos pintados com exclamações Marielle se fazia presente como um símbolo. “Quem matou Marielle atiçou o formigueiro!”. A mensagem estava posta. A diversidade dos movimentos feministas estava ali por entre marchas, capoeira e coletivos.
No dia 14 de março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ativista dos direitos humanos, foi brutalmente assassinada, levantando assim gritos e ecos em todo país. A comoção ganhou proporções internacionais e passou a denunciar dificuldades da luta pelos direitos das mulheres, no Brasil. Marielle virou semente. O número de mulheres negras eleitas no ano passado cresceu, especialmente no estado da ativista. Um ano depois, a luta de Marielle continua ecoando tornando-se uma das principais pautas das manifestações do último 8 de março. Nesta semana, os supostos assassinos da vereadora, um é PM reformado e o outro ex-PM, foram presos.
Em homenagem ao dia internacional da mulher, a coletividade uniu forças e levou reivindicações das mais diversas. O privado é político. Cada mulher com uma história, um grito, uma reivindicação cresce e ganha força dentro do coletivo. Oito mulheres que representam milhares. Oito histórias. Oito lutas contra machismo, racismo, e LGBTIfobia.
A ativista Marcela*, 46, LGBT, mãe de dois filhos e feminista, “dentro da política a gente consegue ter voz”, conta que se tornou ativista após assumir um relacionamento com uma mulher, com quem está casada há onze anos. “Cá estou eu nessa busca [por direitos], de batalhar pelo que é melhor para a gente”. Marcela conta que sempre foi católica praticante e que hoje participa limitadamente da igreja. “Eu acho que a religião não pode interferir no nosso amor, no que a gente pensa sobre o nosso corpo e na nossa intimidade com outras pessoas”, explica. Conta também que desde que se assumiu como LGBTI percebeu a discriminação no afastamento de muitas pessoas.
“Não temos nada para festejar, infelizmente”, diz Maria de Lourdes da Silva Galvão, funcionária pública aposentada, mãe de 7 filhos, ativista feminista e lulista. “Eu já sofri muito durante a vida. Os únicos momentos nos quais tivemos uma vida melhor foram nos governos Lula e Dilma. (…) voltamos à estaca zero” Ela conta que hoje tem dois filhos precisando fazer faculdade, que não conseguem se inserir no meio acadêmico por existir um número muito limitado de cotas para deficientes e para negros. “Ele passou, mas quando foi fazer matrícula, não conseguiu [se matricular]”, explica ela. Criticando também a eficiência da Lei Maria da Penha: “a lei Maria da Penha deveria ser mais enérgica”, e exemplifica as diversas violências sofridas graças ao machismo impregnado na sociedade. “Fui molestada pelo meu padrasto, quem eu confiava muito, dos oito aos doze anos. Minha filha já passou pela mesma situação com o padrasto dela”. O ciclo de violência se repete dentro da própria casa “você fica sem saber o que fazer, porque você nunca espera algo assim, e infelizmente, isso acontece todos os dias, todas as horas”. Violências assim continuam se repetindo dia após dia em diversos lugares dentro de narrativas repetidas diariamente.

Ativista Sulamyta Rodrigues de Oliveira não se lembra da primeira vez que sofri machismo. Explicando que seu trabalho dentro da luta feminista começou quando ainda tinha por volta dos 13 ou 14 anos, foi ali que começou a despertar que “sem a causa [feminista], não teríamos chegado em nenhum lugar” e também não seria possível avançar. Para ela a luta interliga mulheres. A luta de uma mulher sempre vai influenciar na luta da outra.
“Eu vejo as batalhas diárias”. Ativista negra e feminista. Aline, 22, “Eu me reconheci negra tem pouco tempo. Foi um baque pra mim, pois passamos por um processo de embranquecimento”. Para ela se reconhecer com como mulher negra é um processo de renascimento “uma vez em que a partir desse momento, eu me encontrei e entendi o meu lugar na sociedade”. Numa sociedade racista mulheres negras são empurradas para as bases, Aline conta que queria mais e o caminho seria uma batalha. Ela começou a entender as opressões que certas coisas aconteciam por ser negra ou por ser periférica. “Se reconhecer como negra é importante para nos identificarmos e nos defendermos.”.

Nilde, 50, trabalhadora rural, milita na Marcha das Margaridas, movimento formado por mulheres trabalhadoras rurais. “Eu sou de tudo um pouco”, começa contando os diversos papéis que exerce dentro da sociedade como mãe, avó, esposa, dona de casa e trabalhadora. Defende em palavras simples aquilo que podemos definir como sororidade, a fraternidade feminina, como resposta a uma sociedade que estimula a rivalidade feminina como algo natural. “Nós mulheres temos que nos respeitar. Ter mais carinho e compreensão umas com as outras”. A luta começou dentro de casa, como no caso da maioria das mulheres, seu primeiro marido com quem ficou casada por 10 anos era um daqueles homens que acreditava que mulher não deve trabalhar ou estudar, “Mulher só mandava da cozinha pro quarto, a coisa mais horrorosa, ridícula” conta, afirmando em seguida “hoje eu tô livre! Graças a Deus!”.
Confira: aumento dos casos de feminicídio no DF
Valdirene, 36, conta que já é mãe de uma jovem de 17 anos. Também é militante da Marcha das Margaridas. Conta que cresceu num lar de violência, vendo sua mãe apanhar e desde jovem decidiu que “nenhum homem ia abusar de mim! Nenhum homem ia me bater! Eu não ia passar por aquela situação, eu não ia aceitar!”. Ser feminista é perceber como a mulher cresceu e têm alcançado seus objetivos por isso se mantém na luta.

“Acho que as mulheres ao longo da história têm mostrado como é fazer história pelas próprias mãos”. Ana Paula Feminella, 46, técnica em assuntos educacionais, se reconhece como feminista e anticapitalista. É ativista do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal mulheres com deficiência são mais vulneráveis a toda forma de violência, seja ela patrimonial, física ou psicológica, explica “a gente está nessa causa, dando visibilidade às condições de vida das mulheres com deficiência”. Conta que aos 18 anos, quando ainda não se reconhecia como feminista, sofreu uma situação de assédio sexual no seu primeiro trabalho. Ali teve de se posicionar. Demarcando para seu chefe os limites que deveriam ser respeitados. “Com uma perspectiva de mais retrocessos [sociais], é hora de barrar, de fazê-los parar, de fazê-los retroceder. Machistas não passarão, racistas não passarão, capacitistas não passarão!”. O grito de Ana Paula é especialmente por uma sociedade mais igualitária.
Germana Pereira, professora da UNB. Mulher sertaneja, nordestina, paraibana. Conta que sua luta foi inspirada pela sua mãe, que foi professora até os 70 anos, com leituras feministas, usando calça jeans, trabalhando e estudando, fez revolução dentro da sua realidade, com as pautas de seu tempo. “Acho que miltantes são todas as brasileiras, independentemente do engajamento. Meu engajamento é na minha própria vida”. A luta das mulheres, segundo a professora, começou no momento em que elas deixaram de atuar somente da esfera privada e começaram a assumir papéis no mercado de trabalho. Quando questionada sobre situações machistas na sua história, ela conta que desde jovem sentiu ataques machistas vindo as vezes de pessoas próximas dentro da história de “luta pela independência e autonomia”. Os desafios se reafirmaram em diversos momentos quando se viu como divorciada, mãe e no momento em que assumiu um relacionamento com uma mulher.
Dentre todas histórias um mesmo grito. Um mesmo desejo. Que se faça uma sociedade mais igualitária. Mulheres ativistas como Marielle Franco, ativistas na esfera privada ou pública, lutam diariamente por reconhecimento e por respeito. Nas diversas causas feministas público, privado e político se mesclam e a luta se faz necessária dia após dia. Assim as sementes de Marielle brotam e viram flores que se fazem presentes sob gritos. Marielle vive!

Por Luísa Silveira e Larissa Mota Calixto
Fotos de Larissa Mota Calixto
Sob supervisão do professor Luiz Claudio Ferreira